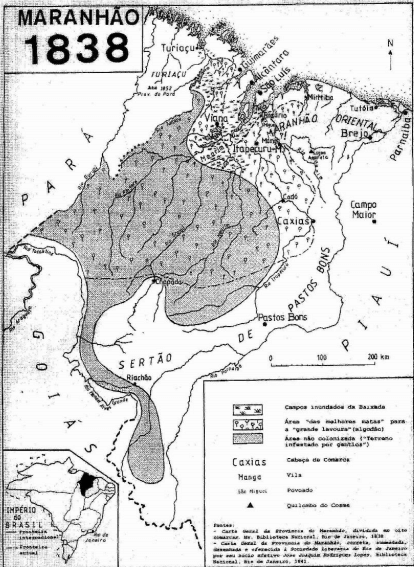Em 1661 e 1684, duas revoltas abalaram as cidades de Belém do Pará e de São Luís do Maranhão. A primeira delas iniciou-se na cidade de São Luís e pouco depois se espalhou para a capitania do Pará. A segunda, mais conhecida como “revolta de Beckman”, ocorreu somente em São Luís. No século XVII, juntamente com outras capitanias de donatários, o Maranhão e o Pará compunham o Estado do Maranhão, criado nos anos 1620, e que possuía uma administração separada e independente do Estado do Brasil. Compreendendo uma área que se aproxima da atual Amazônia brasileira, o Estado do Maranhão se caracterizava por uma realidade marcada pela importância da mão-de-obra indígena e por uma economia na qual se interconectavam atividades extrativas (principalmente a coleta das chamadas drogas do sertão) e a lavoura. Nesse sentido, a região teve nos problemas de aquisição e controle dos trabalhadores indígenas – livres ou escravos – uma constante fonte de problemas. Foi principalmente em torno dessa grave questão que giraram os dois levantes dos moradores portugueses.
As duas rebeliões compartilham elementos comuns, quanto aos grupos que delas participaram, quanto às razões invocadas pelos seus participantes para justificar a revolta, e quanto à forma que tomou o próprio ato de rebelião. Ambos levantes revelam as contradições daquela sociedade. Por outro lado, os dois motins permitem entender as formas por meio das quais os moradores de uma conquista ultramarina portuguesa legitimavam as suas pretensões e invocavam seus direitos frente à Coroa.
A revolta de 1661 começou no dia do Espírito Santo, em São Luís do Maranhão, quando um grupo de moradores se dirigiu ao colégio jesuíta de Nossa Senhora da Luz, “assanhados todos como feras bravas”, nos dizeres do padre jesuíta João Felipe Bettendorff, e expulsou os religiosos de suas celas, mantendo-os detidos na casa de um morador. Em pouco tempo, a rebelião tomou conta da cidade. Em dois meses, a revolta se espalhou para a capitania do Pará. Foi em Belém, no Colégio de Santo Alexandre, que os levantados prenderam o célebre padre Antônio Vieira. Embarcado e mantido à força num navio, o padre Vieira finalmente partiu para Lisboa, de onde nunca mais voltaria ao Maranhão.
Na rebelião de 1684, o alvo dos moradores não eram somente os jesuítas, mas também a autoridade do próprio governador, que havia se instalado em Belém do Pará, e também um monopólio de comércio (o estanco), que havia sido estabelecido entre a Coroa e comerciantes privados em 1682.
De acordo com um dos primeiros cronistas desta revolta, Francisco Teixeira de Morais, o líder do levante, o morador Manuel Beckman teria planejado o motim juntando alguns moradores em seu engenho no rio Mearim (na capitania do Maranhão), onde denunciara o estanco e as leis de 1680, que determinavam a total e irrestrita liberdade de todos os índios do Estado do Maranhão. Na véspera da procissão de Nosso Senhor dos Passos, os insurgentes tomaram a cidade de São Luís, dominaram a guarda e passaram a controlar as casas do estanco. Uma vez no poder, formaram uma junta composta pelos procuradores dos Três Estados – nobreza, clero e “povo”. O novo governo decretou a abolição do estanco, a expulsão dos jesuítas, a deposição do capitão-mor e a negação da obediência ao governador. Depois da prisão do capitão-mor, a Câmara aceitou os termos da rebelião. Os padres jesuítas foram expulsos da cidade em duas naus, em março de 1684.
Os dois levantes não foram revolucionários, no sentido de que não contestavam a ordem estabelecida. O máximo até onde os insurgentes chegaram foi em 1684, quando negaram a autoridade do governador e depuseram o capitão-mor do Maranhão.
As duas revoltas irromperam contra políticas específicas da Coroa. Por um lado, os dois levantes se opuseram ao controle dos índios livres confiado aos jesuítas pela Coroa. A lei de 1655 (inspirada pelo padre Vieira), complementada pelo regimento do governador do Maranhão (também de 1655), e uma lei de 1680 determinavam que o controle dos índios livres ficaria a cargo exclusivo dos padres jesuítas. Esse controle por parte dos padres, denunciado como tirania pelos moradores, foi sem dúvida uma das mais fortes razões para os portugueses se revoltarem contra a Companhia de Jesus. Aliás, essa revolta não era novidade na América portuguesa. Na São Paulo da década de 1640, por razões muito semelhantes, os paulistas expulsaram os religiosos e impuseram a sua própria forma de controle da mão-de-obra indígena.
Por outro lado, em 1684, os moradores se levantaram também contra o monopólio de comércio estabelecido pela Coroa e um grupo de comerciantes em 1682. Os abusos dos contratistas e o próprio fracasso em cumprir as metas acordadas com a Companhia de Comércio, tanto a de entrega de escravos africanos como de produtos do reino, foram, pouco a pouco, minando os ânimos dos moradores de São Luís.
No caso da denominada “revolta de Beckman”, há que se chamar a atenção igualmente para um outro fator, que é a residência oficiosa que o governador tinha escolhido em Belém, apesar de oficialmente a capital do Estado do Maranhão e Pará ser a cidade de São Luís. Os revoltosos de São Luís queixaram-se dessa situação, uma “tradição” estabelecida pelos governadores, pelo menos desde a década de 1670.
Ao se ler as cartas e requerimentos dos revoltosos podem-se perceber basicamente três motivos usados para explicar os levantes. O primeiro deles é a “miséria”. Para os revoltosos de 1661 e de 1684, os jesuítas eram responsáveis justamente pela falta de escravos e de trabalhadores indígenas, em razão do controle que tinham, garantido pelas leis, não só sobre os índios livres das aldeias, mas igualmente sobre o exame da legitimidade dos índios escravizados pelos portugueses. Esta era uma percepção explicitamente apresentada pelos revoltosos. Já durante o levante de 1684, a ideia de “miséria” estava associada não só às leis que conferiam aos padres poder sobre os índios, mas igualmente ao estanco.
Segundo os colonos, se a falta de escravos era causada pelo controle dos jesuítas sobre os trabalhadores indígenas livres e sobre os modos de escravização dos índios nos sertões, ela tinha suas raízes profundas na ambição dos religiosos. Esse é um segundo motivo recorrente. “Ambição” e “cobiça” eram termos usados tanto pelos padres como pelos rebeldes (e moradores em geral). Contra a ambição dos religiosos e falta de trabalhadores livres e escravos, os moradores continuamente se queixavam à Corte.
Aqui está um último e fundamental motivo reiteradamente invocado pelos moradores. De fato, os revoltosos, bem como as Câmaras do Estado do Maranhão, protestavam que as suas queixas nunca eram ouvidas ou atendidas. Poucos meses depois de começada a rebelião de 1661, o próprio Conselho Ultramarino reconhecia “que o fundamento de sua desesperação (como eles o publicam e escrevem) não foi outro que não terem meio de a Vossa Majestade chegarem suas queixas e razões, [nem] por procuradores que a esta Corte mandaram, nem por cartas”.
Se eram basicamente três os motivos que alegavam os revoltosos para se insurgir, indagar o porquê da revolta não é suficiente para entender esses levantes populares. Nesse sentido é preciso se perguntar quais crenças fundamentavam a ação dos revoltosos. Em primeiro lugar, era fundamental a ideia de que sem escravos indígenas e trabalhadores índios livres nada podia ser feito, e os moradores não poderiam sobreviver no Estado do Maranhão. Essas reclamações estavam intimamente vinculadas às discussões mais gerais sobre força de trabalho no Estado do Maranhão, incluindo aí os escravos africanos. Os rebeldes de 1661 e 1684 queixavam-se dos padres jesuítas e das leis de 1655 e de 1680, respectivamente, pelas restrições impostas ao uso de escravos indígenas e trabalhadores índios livres.
Os moradores acreditavam ter o “direito” de escravizar indígenas e de ter total acesso à mão-de-obra livre. Esse “direito” era baseado em duas outras ideias. A primeira delas, muito clara no motim de 1661, era a de que os próprios moradores e seus antepassados haviam conquistado e ocupado o Maranhão para a coroa de Portugal.
Este tipo de legitimação era reforçado pela ideia de que os revoltosos agiam em nome do “povo”. Em vários momentos o termo “povo” é citado pelos rebeldes. Falar em nome da maioria era, portanto, uma importante fonte de poder político. Claramente, esta ideia de povo e comunidade estava vinculada ao papel dos Câmaras municipais no Estado do Maranhão. As duas rebeliões tiveram apoio considerável nas Câmaras, mesmo que os vereadores não aderissem imediatamente aos levantes. A Câmara era também um importante instrumento político para negociar com as autoridades e a Coroa. No século XIX, o historiador maranhense João Francisco Lisboa argumentou que a consolidação do poder municipal no Maranhão consistira num processo de usurpação do poder por um grupo de aristocratas locais, cuja nobreza havia sido conseguida através das armas e relembrada em todas as ocasiões. Esse era justamente, um dos principais argumentos dos rebeldes para legitimar suas ações e a necessidade de serem ouvidos pelo soberano.
As duas rebeliões devem ser entendidas no interior de um conjunto de ações promovidas pelos moradores portugueses do Estado do Maranhão para manifestar suas concepções sobre como devia ser efetuada a resolvida a colonização do Maranhão e do Pará. Muitas das queixas expressas de forma radical através das duas revoltas reproduziram-se também nos inúmeros pleitos, cartas e representações escritas pelos moradores da região ao longo de todo o século XVII. Como bem definiu o historiador João Lúcio de Azevedo, no início do século XX, “a rebelião dos colonos maranhenses era como que a cristalização de seus anelos, tantas vezes formulados em queixas constantes e atos de violência repetidos. Assim considerada, a comoção ganha maior vulto aos olhos do observador”.