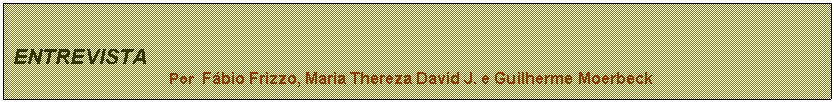
MARIA YEDDA LINHARES
Professora emérita da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), duas vezes secretária de
educação do Rio de Janeiro.
Área de Interesse: História Agrária
Cantareira
- Nos últimos anos, a senhora
encarou dois desafios: a criação de dois programas de pós-graduação, um na
Severino Sombra, em Vassouras, e o outro na Universo,
 Maria Yeda Linhares - Eu acho normal já que,
gradativamente, o Brasil está assumindo o modelo americano de universidades privadas
que podem se desenvolver, que têm autonomia e não estão dentro daquelas regras
estreitas da burocracia. Agora, o único problema da História é que ela é
uma “disciplina” muito velha, muito antiga e não tem status de ciência, não tem status
de importância, de qualidade, porque todo mundo se diz historiador, todo mundo
gosta de história, sobretudo as pessoas mais idosas (“– Ah,
eu gosto muito de história!” “- Ah sabe que eu conheci muito o fulano de tal,
que foi governador, que foi prefeito?”). A noção de História é muito popular.
Todo mundo se considera conhecedor da história porque viveu muito, então, se
ele viveu muito, ele conhece história, que é a sua vida. E é verdade, ele tem
razão. Porque, no fundo, - não digo que a história seja um somatório de vidas,
milhares, milhões, trilhões de vidas -, esse fator vida de cada um, de
personalidade, tem muito a ver com a maneira de olhar a história, de encará-la
e de interpretá-la. Mas dificilmente a história penetra os meios acadêmicos,
científicos, avançados, tecnológicos, como ciência. A história ainda é vista,
parece-me, pelos não-historiadores e, não-cientistas sociais como uma coisa
interessante, engraçada, que conta estórias de quem tem um pai,
um avô, que fez isso, fez aquilo (“-Eu tive um tio, que fez uma estrada de
ferro não sei aonde”). No fundo, eu acho graça, eu realmente compreendo que as
coisas sejam assim. Eu reconheço que o historiador tem que trabalhar muito para
ter um status respeitado nas classes
intelectuais e dirigentes do país, do contrário, ele pode ser confundido com um
mero contador de estórias, memorialista, sentado em uma cadeira contando suas
lembranças de um tempo em que o trem não passava lá, ou que não havia uma
grande estrada passando por perto. A História vira curiosidade. E os
intelectuais, os dominantes, têm essa tendência, de achar que a História é uma
questão de conhecimento geral, e não a vêem como uma disciplina científica, que
precisa de um método científico, de apreensão, de chegada ao conhecimento, ao
fato histórico.
Maria Yeda Linhares - Eu acho normal já que,
gradativamente, o Brasil está assumindo o modelo americano de universidades privadas
que podem se desenvolver, que têm autonomia e não estão dentro daquelas regras
estreitas da burocracia. Agora, o único problema da História é que ela é
uma “disciplina” muito velha, muito antiga e não tem status de ciência, não tem status
de importância, de qualidade, porque todo mundo se diz historiador, todo mundo
gosta de história, sobretudo as pessoas mais idosas (“– Ah,
eu gosto muito de história!” “- Ah sabe que eu conheci muito o fulano de tal,
que foi governador, que foi prefeito?”). A noção de História é muito popular.
Todo mundo se considera conhecedor da história porque viveu muito, então, se
ele viveu muito, ele conhece história, que é a sua vida. E é verdade, ele tem
razão. Porque, no fundo, - não digo que a história seja um somatório de vidas,
milhares, milhões, trilhões de vidas -, esse fator vida de cada um, de
personalidade, tem muito a ver com a maneira de olhar a história, de encará-la
e de interpretá-la. Mas dificilmente a história penetra os meios acadêmicos,
científicos, avançados, tecnológicos, como ciência. A história ainda é vista,
parece-me, pelos não-historiadores e, não-cientistas sociais como uma coisa
interessante, engraçada, que conta estórias de quem tem um pai,
um avô, que fez isso, fez aquilo (“-Eu tive um tio, que fez uma estrada de
ferro não sei aonde”). No fundo, eu acho graça, eu realmente compreendo que as
coisas sejam assim. Eu reconheço que o historiador tem que trabalhar muito para
ter um status respeitado nas classes
intelectuais e dirigentes do país, do contrário, ele pode ser confundido com um
mero contador de estórias, memorialista, sentado em uma cadeira contando suas
lembranças de um tempo em que o trem não passava lá, ou que não havia uma
grande estrada passando por perto. A História vira curiosidade. E os
intelectuais, os dominantes, têm essa tendência, de achar que a História é uma
questão de conhecimento geral, e não a vêem como uma disciplina científica, que
precisa de um método científico, de apreensão, de chegada ao conhecimento, ao
fato histórico.
Cantareira - Nos anos 60, muitos pesquisadores iam fazer
pós-graduação no exterior porque, realmente, não havia muitas opções no Brasil.
Hoje em dia, salvo casos especiais, os historiadores têm optado por fazer
mestrado e doutorado no Brasil. Há talvez quinze anos, mais ou menos, um
diploma de uma instituição federal era uma garantia de emprego. Hoje em dia, o
historiador tem optado por “emendar” um doutorado porque o mercado de trabalho
está inchado. Como a senhora avalia este quadro?
MY
– Acho que este é um fenômeno universal, ocorre a
mesma coisa nos Estados Unidos, na França. O diploma mais baixo, por onde a
gente começa a progredir, como o de especialização, já era muita coisa, depois
passou para o mestrado. Era muito importante, como foi numa época passada na
França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer país do mundo. E
finalmente o doutorado que era uma aspiração impossível na minha geração, nunca
imaginei que o Brasil pudesse ter tantos doutores
Cantareira – É uma situação realmente complicada. Nós
formamos muitos mestres e doutores e o mercado de trabalho não dá conta de
captar todas essas pessoas.
MY - Exatamente, é a questão da sofreguidão. O jovem, óbvio, quer entrar no mercado de trabalho. Agora, ele talvez tenha feito uma opção que não é das melhores, fazer doutorado em História [risos], porque a chance de você colocar o historiador [no mercado] são raríssimas, como em um curso superior numa universidade. Para os médicos, advogados, engenheiros, são inúmeras as possibilidades de expansão e o historiador, realmente, se vê com uma visão muito estreita de futuro, de possibilidades concretas de fazer uma carreira, de desenvolver uma vida acadêmica, científica, universitária. É esse o problema, realmente: como valorizar e, como construir a História como um setor de conhecimento importante para a sociedade.
Cantareira – Ao longo da sua trajetória acadêmica,
verifica-se um interesse especial pela pesquisa em História Agrária. A senhora
chegou, até mesmo,
a organizar uma linha de pesquisa na pós-graduação da UFF sobre esse tema. A
que se deve esse interesse e, em sua opinião, qual a principal contribuição
deste tema para os estudos históricos?
MY - Não é um tema, acho que é uma área do conhecimento. Você tem uma história mais tradicional que é a história política. A História não era uma disciplina popular, necessária, fundamental para a formação de uma pessoa importante no século XVIII, no século XIX, mesmo ainda no século XX, até os anos 30, por aí assim. Então, quem conhecia a história eram os velhos, porque eles tinham memória. A história era um conjunto de memórias selecionadas pelos velhos, que faziam seus depoimentos (“-Não, porque o meu avô foi quem abriu aquela estrada”; “- O meu tio fez aquilo outro”). Era um hábito, um costume, “a história não é uma ciência”, “só as pessoas que viveram muito podem conhecer a história”, pois têm uma experiência de vida, sabem das coisas do passado.
“Foi muito difícil [para a História], numa sociedade como a brasileira, muito restrita à classe dominante e muito sequiosa de se colocar como classe dominante nos postos decisivos do país. Porque a História não tinha muito lugar aqui nesse país, sempre foi considerada uma perfumaria.”
Na minha geração, por exemplo: por que, Yedda, você que fez a maratona intelectual, tirou o
primeiro prêmio com o Darcy Ribeiro, foi fazer História? Porque eu gosto de
História. E, é verdade, porque aqui não tem muita gente interessada, você pode
fazer as coisas, escrever o passado do Brasil. Mas a ninguém passava na cabeça
que pudesse ser uma disciplina científica, de preocupações intelectuais.
Inclusive nacionais, para a formação de uma sociedade, de uma classe dirigente,
de professores. A história era uma coisa que os velhos conheciam, era uma
seleção de memórias pessoais, individuais. Então, na minha geração, por
exemplo, historiadores eram Capistrano de Abreu, Varnhagen, e
a gente conseguia ler aqueles livros do Varnhagen,
que não eram fáceis de ler. Já o Capistrano era realmente muito mais agradável,
não há dúvida nenhuma. Mas quem é que podia chegar a ser um Capistrano, um Varnhagen? Ninguém. Então, não passava pela cabeça de quem
fazia o curso de História, no caso da minha geração, de vir a ser um
historiador, mas um professor de História, um contador de histórias do Brasil,
uma pessoa capaz de orientar os alunos sobre o passado do Brasil, dar boas intenções
com relação ao Brasil, transmitir uma noção de patriotismo, de defesa do seu
país, de erudição, de conhecimentos gerais. Mas, profissionalmente, não havia muito o que fazer com História. O historiador era
geralmente uma pessoa – que se podia dizer historiador – velha, bastante idosa,
um pouco esquisita, estranha, que vivia trancada com muitos livros e que
conhecia papéis velhos, que conhecia tudo, que discutia “não, esta data não foi
no dia 28 de setembro”, “não, isso aqui foi no dia 26 de setembro”. Então, eram
minúcias, detalhes, curiosidades que pertenciam às pessoas idosas, que não
faziam nada, que tinham dinheiro, que tinham recursos, que estavam aposentadas
e passavam o dia vendo papel velho na Biblioteca Nacional ou no Arquivo
Nacional. “Não, porque o Marquês de sei-lá-das-quantas
era assim era assado”, “o visconde, o general não sei das quantas era...”,
conheciam a história do Brasil de uma forma muito pontual: os nomes, as
pessoas, os fatos, as batalhas. A noção de uma história como ciência, produto
de uma ciência social, com métodos próprios, com exigências de segurança, de
erudição, de conhecimento, de pesquisa, é uma conquista extremamente recente no
Brasil. E os grandes historiadores como o nosso Capistrano de Abreu, o Varnhagen, depois o Sérgio Buarque de Holanda - este que
foi talvez o primeiro de uma geração moderna de historiadores, ele compreendeu
perfeitamente o que se passava, dominou extraordinariamente os seus
historiadores, ou os nossos historiadores, conhecidos, consagrados, os que eram
catadores de papéis, de documentos -, perceberam que a história tinha que ser
toda ela seriada, documentada. Documentação individual, inclusive e,
sobretudo, a idéia de que a História era uma disciplina que valorizava o
trabalho individual do intelectual ou do político, e que ajudava a classe
dominante a conhecer melhor os seus antepassados que chegaram a fazer sucesso
na sociedade brasileira. Então, até ela passar a ser uma disciplina, não de
valorização da classe dominante, mas de explicação do passado de um povo, de
uma nação, dizer por que o Brasil é pobre, por que o Brasil é miserável, por
que existe tanta divisão, tanta separação dos homens entre as classes sociais,
entender estes fenômenos, que nunca foi preocupação do historiador, no nosso
caso foi realmente importante, aquilo que nos mobilizava para sermos
historiadores. Na minha geração começou a surgir uma preocupação sobre a
importância política e social da História para explicar o presente e,
para, digamos, educar a classe dominante do presente, a camada de baixo dessa
sociedade e de pensar o seu presente não como uma inferioridade em si, mas como
herança de uma sociedade que era essencialmente desigual, e continua desigual.
Então, essa consciência social e política que se desenvolve justamente nesse
nosso século, sobretudo
a partir dos anos 30, que coincide com a grande mudança política do país, torna
a História um objeto novo de interesse, de estudo, de pesquisa. É
lugar-comum o que eu estou dizendo, todo mundo sabe, mas é sempre bom rememorar
isto. Por exemplo, o nosso Capistrano de Abreu é visto hoje como um intelectual
muito importante de uma determinada época da história do Brasil, mas não como a
única pessoa que detinha o conhecimento do nosso passado. Ele foi um grande
intelectual da Primeira República, um grande brasileiro, mostrou muitos
caminhos, mas ninguém hoje vai fazer uma história, como a minha geração fazia, só sobre Capistrano de Abreu, repetindo as pesquisas
dele. Nós já demos vários saltos adiante e acompanhamos o movimento da História
não mais como uma curiosidade das classes dominantes, mas como uma disciplina
capaz de informar uma nação e, ao informá-la, quem sabe poder mudar essa nação.
Cantareira
- O interesse da senhora pela história agrária vem tanto pela contraposição
à história política tradicional como também a uma contraposição à história das
elites e a tentativa de fazer uma história das classes subalternas?
MY - Exatamente isso. Depois, nós chegamos à conclusão de que não há uma história política e uma história das classes subalternas, existe a História, que envolve, em seu conhecimento global, o conhecimento das classes políticas dirigentes, da tradicional classe dirigente do país (que merece muitas aspas) e a desigualdade social e política. O que gerou tanta pobreza no Brasil? Há uma outra preocupação: no passado preocupava-se com história para saber as grandezas do país, suas virtudes e as da classe dominante. Gradativamente nós fomos mudando, mas e os pobres? Onde é que eles estão? Por que eles estão ali? Eles são vagabundos? Eles não trabalham porque não querem trabalhar? Eles gostam de ser pobres? Eles gostam de passar fome? Põe-se uma interrogação que veio não de uma particularidade nossa, brasileira, mas uma mudança na noção de sociedade, de país, de nação, de desigualdade social, de política capaz de mobilizar a transformação do presente. A história passou a ser uma espécie de instrumento dos intelectuais, dos professores, dos ilustrados do país, para dominar o conhecimento do presente e modificar esse presente, na medida em que as causas estão no passado. De onde vêm, quais são as suas raízes? E, com esse arsenal nas mãos, era possível ter uma idéia concreta de que esse passado vai ser corrigido, vai ser revisto. Isto coincide com uma evolução geral da humanidade, a transformação da própria sociedade capitalista internacional. A classe dominante via que o mundo estava mudando, a Revolução Russa, depois a Revolução Chinesa; grandes mudanças nas classes dominadas dos países capitalistas, os movimentos sindicais, os movimentos sociais, os movimentos de luta da classe operária, que foi oprimida pela história, como se diz. Essa foi uma evolução geral e a História passou a ter um outro status, deixou de ser aquela conversa de alta sociedade, dos homens lidos e dominantes (“- Não, mas afinal de contas o Pedro II não era bem assim, era assado”; “- O general não sei das quantas tinha tais e tais idéias”), dos homens públicos, que eram discutidos em mesas de banquetes e salões de festas. A história passou a ser um elemento importante que estava ao alcance dos partidos políticos, das classes oprimidas, dos assalariados em geral, da classe operária, para mudar o seu presente. Tornou-se um instrumento para mudar a situação daqueles que se encontravam em uma situação de inferioridade naquele presente. A partir deste momento é que a história deixou de ser um ornamento nas conversas de salões e passou a ser um instrumento de luta e a ser também algo muito perigoso, e o historiador uma pessoa perigosa também.
Cantareira – Em parceria com o Professor Francisco
Carlos Teixeira, a senhora escreveu um livro intitulado “Uma história política
da questão agrária no Brasil”. Como a senhora avalia a
atuação de movimentos sociais agrários como o MST, nos dias de hoje, e a
postura do atual governo Lula frente às questões agrárias?
MY -
Eu lhe digo com sinceridade: eu não creio,
pelo menos que seja do meu conhecimento, que alguém, no passado do Brasil ou no
presente, estando em situação de dominância política, esteja pensando em uma
revolução agrária no Brasil. Eu não creio que o Lula tenha algum projeto de
mudança agrária para o Brasil. Pode ser que ele fale, mas acho que ele não
possui os meios de conduzir, porque ele teria que rever as suas alianças. É uma
questão perigosa no Brasil, mas, menos perigosa agora do que foi no
passado. Ninguém mais fala nos grandes latifundiários, que foram os grandes
demônios do passado. O latifúndio já não é mais uma palavra tão feia, ou tão
usada, como era nos discursos políticos. Não há mais essa idéia no Brasil. O
Brasil perdeu um pouco dessa consciência da desigualdade no campo, dos grandes
proprietários e dos não proprietários, dos sem terra. A idéia dos sem terra no
Brasil não é de hoje mais. Não sei, talvez eu esteja errada.
Não faz mais parte do discurso político do país, do discurso eleitoral, o que
eu acho lamentável. Eu tenho a impressão de que essa parada o capitalismo
ganhou.
Cantareira – E como a senhora
avalia atuação desses movimentos sociais, mais radicalizados, de ocupações,
como o MST?
MY - Eles são importantes? Eles são avassaladores? Eles contribuem em algum momento para passar a terra do grande proprietário para o pequeno? Eu não sei, eu não vejo resultado disso. Acho importantes esses movimentos, todos eles são importantes. Agora, me desculpem, talvez eu esteja errada, não sou dona da verdade, não tenho a erudição necessária para me considerar dona da verdade, mas eu tenho a impressão de que isso já passou. O grande capitalismo venceu a parada no Brasil. A luta, se é que vai haver alguma, será um ajustamento do interesse das grandes classes políticas brasileiras. Eles vão fazer o seu ajustamento necessário. Mas o que se pensava muito na minha geração, em um determinado momento, que haveria uma grande revolta agrária no Brasil, uma grande revolução que iria revolver o sistema de propriedade no Brasil, isso não houve. E não creio que isso se resolva através de pequenas soluções locais, porque o êxodo rural foi muito grande, as populações abandonaram o campo e criaram um outro problema, o problema urbano. Houve uma transferência lamentável. Não há mais condições políticas nem demográficas no Brasil para uma grande revolução agrícola. Não quero ser profeta, porque eu não me considero profeta, não tenho bola de cristal e acho que a historia não pode pretender ditar como vai ser o futuro. Nós estamos habituados a olhar só o passado, nunca caminhamos pelo futuro, mas sempre vamos adiante. A base do nosso conhecimento é o passado. Então, isto me leva a crer que dificilmente haverá um outro movimento de mudança agrária no país. O campo se esvaziou e surgiu aí o movimento urbano. Houve uma transferência de problemáticas. O Brasil continua desigual, mas é uma desigualdade no nível urbano, as grandes cidades viraram realmente uma aberração.
Cantareira – Na década de
MY - Eu sempre tratei de educação, sempre fui muito interessada. Eu, como historiadora – digo, como professora de História, pois eu nunca pretendi ser historiadora, digo com sinceridade que nunca tive tempo para ser historiadora; um historiador deveria ficar tanto tempo em um arquivo lendo papéis que eu não tinha tempo –, como professora de História sabia que poderia fazer alguma coisa. Como historiadora eu ia ter que brigar com o José Honório Rodrigues, e ele não ia permitir que eu fosse historiadora. Ninguém podia tocar em arquivos, só ele. E, como eu tinha muito que fazer como professora, no campo do ensino, da didática, da pedagogia, eu preferi, era mais fácil. E aí eu poderia trabalhar livremente, sem os historiadores que eram “fuçadores” de documentos nos arquivos, que fizeram alguns livros importantes, mas eu não sei se mudaram a História do Brasil. Eu estava mais preocupada em mudar os rumos da história do Brasil do que em ser historiadora. Digo com toda sinceridade, não ia disputar com os meus amigos um lugar no hall dos historiadores. Então fiquei como batalhadora na formação de jovens – estes sim, iam mudar o mundo. O meu fracasso na vida foi esse.
Cantareira – Durante toda a sua trajetória a senhora teve a oportunidade de se relacionar com grandes nomes da historiografia brasileira e mundial, como, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda e Fernand Braudel...
MY - Sim, foram os grandes amigos que eu tive na
vida, realmente. No exterior o Braudel, um grande amigo
meu, que me adorava e eu também gostava muito dele. Era muito carinhoso e tudo.
E o Sérgio Buarque, que foi o grande amigo da minha vida. Era um super-homem,
uma super inteligência. Era um ser humano; um historiador humano. Profundamente
culto, profundamente erudito e gozado, muito
brincalhão. Ele não levava os historiadores muito a sério. Estes foram meus
dois grandes amigos: o Sérgio Buarque, muito próximo a mim, o grande amigo que
eu tive na vida no plano intelectual e tudo; e o Braudel,
na França. A última vez que eu o vi foi poucos meses antes de morrer e este me
fez muita falta. Gostavam de mim os dois; o porquê eu não sei, acho que era
muito mais jovem que eles, e eles achavam que eu era engraçada, só pode ser. Os
dois eram muito meus amigos.
Cantareira – Além destes dois grandes historiadores, quem mais contribuiu de forma decisiva para sua carreira acadêmica?
 MY - Foi
uma geração que lutou muito para mudar o Brasil. Não dava tempo de ficar
enfurnado no arquivo lendo documentos velhos. Eu não fui muito a arquivo. Mas
não era essa a minha função primordial. Essa geração estava muito mais
preocupada em mudar o país, em tornar o país mais humano, mais igual, menos
desigual, menos pobre, menos injusto. Esta foi uma missão da minha geração,
pelo menos daqueles com quem eu compactuava. Lembro muito, inclusive, de uma
grande figura na minha geração, Milton de Almeida Rodrigues, que
lamentavelmente morreu. Era uma pessoa de uma inteligência brilhante. Um jovem
com uma capacidade fantástica de ver o mundo, de ver o Brasil, de entender as
coisas como se passavam. E eu, no fundo, aprendi muito com esses meus colegas,
um deles o Milton de Almeida Rodrigues, que, de fato, era de uma inteligência
prodigiosa. O José Américo Peçanha era outra pessoa também. Eram malditos
pelos jornais, pela opinião dominante, mas contribuíram muito para movimentar
as idéias neste país de uma forma correta. Sem ser em partidos políticos.
Nenhum deles queria chegar ao poder ser deputado, ser senador. Nenhum de nós
foi. Mas ajudamos muito a desenvolver uma certa
mentalidade nos jovens de olhar o Brasil de uma maneira crítica e não
conformista; de que há uma saída e é preciso lutar. Como, eu não sei. Se me
perguntar como nós vamos fazer isso, aí eu não sei. Vocês é que têm que
escolher o momento e a oportunidade.
MY - Foi
uma geração que lutou muito para mudar o Brasil. Não dava tempo de ficar
enfurnado no arquivo lendo documentos velhos. Eu não fui muito a arquivo. Mas
não era essa a minha função primordial. Essa geração estava muito mais
preocupada em mudar o país, em tornar o país mais humano, mais igual, menos
desigual, menos pobre, menos injusto. Esta foi uma missão da minha geração,
pelo menos daqueles com quem eu compactuava. Lembro muito, inclusive, de uma
grande figura na minha geração, Milton de Almeida Rodrigues, que
lamentavelmente morreu. Era uma pessoa de uma inteligência brilhante. Um jovem
com uma capacidade fantástica de ver o mundo, de ver o Brasil, de entender as
coisas como se passavam. E eu, no fundo, aprendi muito com esses meus colegas,
um deles o Milton de Almeida Rodrigues, que, de fato, era de uma inteligência
prodigiosa. O José Américo Peçanha era outra pessoa também. Eram malditos
pelos jornais, pela opinião dominante, mas contribuíram muito para movimentar
as idéias neste país de uma forma correta. Sem ser em partidos políticos.
Nenhum deles queria chegar ao poder ser deputado, ser senador. Nenhum de nós
foi. Mas ajudamos muito a desenvolver uma certa
mentalidade nos jovens de olhar o Brasil de uma maneira crítica e não
conformista; de que há uma saída e é preciso lutar. Como, eu não sei. Se me
perguntar como nós vamos fazer isso, aí eu não sei. Vocês é que têm que
escolher o momento e a oportunidade.
Cantareira – A senhora falou várias vezes sobre a escolha de ser professora para uma modificação do Brasil, para criar consciência nas pessoas. Como a senhora se vê hoje como formadora, direta ou indiretamente, de boa parte dos intelectuais de História, dos professores universitários de História de hoje? Pois a senhora falou que não ganhou a batalha a que tinha se proposto, mas ainda assim a senhora formou, direta ou indiretamente, a maioria dos profissionais da área.
MY - Eu formei, não há dúvida nenhuma. Eu acredito que alguns devem ter feito algumas mudanças nas suas cabeças, eles devem ter mudado um pouco. No fundo a gente não pode moldar um aluno, mas há determinadas coisas que a gente pode dizer que de repente acendem uma luz na cabeça. Ninguém sabe como é que isto se dá, como é que esta luz foi acesa; se ela permaneceu acesa; como ela foi lida internamente. Eu acho que devo ter contribuído para mudar um pouco a cabeça dos estudantes de classe média. Nunca mexi com as classes populares, o que eu lamento muito. Eu acho que houve algumas mudanças. Da mesma forma como colegas meus, que eram mais velhos do que eu, como o Milton de Almeida Rodrigues, que exerceram uma influência enorme na minha cabeça. Ele era extremamente inteligente, uma pessoa extraordinária e me despertou. Os meus colegas mais velhos e mais cultos, mais vivos, mais políticos mexeram muito comigo. A gente vai mudando, vai se transformando com o correr dos tempos. Às vezes numa conversa com uma pessoa. Essa politização não precisa de escola, de hora marcada para ouvir um discurso. É a experiência de vida que se tem; é a troca. Eu passei dois anos nos EUA, isto para mim foi muito importante. Em vez de, como a história da Carmem Miranda, voltar americanizada, eu posso ter voltado americanizada no bom sentido, de abrir mais a universidade brasileira e a mocidade brasileira para participar da vida do país. Isto eu aprendi nos EUA, não há dúvida nenhuma. Mas a necessidade de mexer com a sociedade brasileira, a compreensão de seus problemas profundos eu devo à minha convivência com meus colegas, a minha geração. Um deles, eu tenho que reconhecer, o Milton de Almeida Rodrigues, pessoa de inteligência grandiosa que mexeu muito com a minha cabeça. E outros meus colegas que são muitos, não posso nem dizer quantos. Eu parava, raciocinava e dizia “tem razão”. Agora, nunca fui membro de Partido Comunista, nunca fui membro de partido nenhum. Respeitava muito os meus colegas comunistas. Respeitava demais o Prestes; respeitava demais o Partido Comunista. Era uma grande entusiasta da história russa, da história soviética, mas nunca fui comunista. Nunca fui dirigida por partido político, embora eu fosse amiga, simpatizante. Fui muito anti-nazista, anti-fascista; fui muito militante do ponto de vista social, de atuação na sociedade brasileira, mas nunca partidariamente.
Cantareira – E a senhora acha que conseguiu passar isto para os seus alunos?
MY - Eu
acho que sim. As turmas eram muito pequenas naquela época, mas eu acho que
dificilmente, ao fim de três anos – pois
eu dava o curso três anos seguidos –, um aluno
meu saía com a mesma cabeça com que tinha entrado. Não era eu, era a História.
A História ajudou muito a reformular as idéias
daquela geração.
Cantareira – Neste sentido, quem foram os seus “grandes” alunos?
MY - Meus grandes alunos, isto é uma coisa realmente impressionante. Tive grandes alunos. Francisco José Calazans Falcon, o Ciro Cardoso (que não foi meu aluno). Eu conheci o Ciro num momento muito difícil. Era o período da revolução, dos militares, da ditadura e eu fui presa, e acabei sendo deportada. Era presa, saía, mas a cátedra, a cadeira, continuava funcionando lá com o Falcon, com outras pessoas. E o Ciro nunca chegou a ser meu aluno. Em uma das minhas voltas aqui ao Brasil, eu entrei numa sala e ele estava fazendo um seminário. Eu fiquei de boca aberta. Disse: “Meu Deus do céu, mas que coisa mais inteligente, que rapaz fantástico”. Quanto ele terminou eu disse: “Quem é você?” E ele disse: “Ciro Flamarion Santana Cardoso”. Então eu disse: “Mas que coisa fantástica, eu gostei demais do seminário que você fez. Você gostaria de fazer um doutorado na França?” [risos] “Então muito bem, prepare-se porque você vai para França!”. Aí, na mesma hora eu fiz uma ligação para o Braudel, que era muito meu amigo, e disse: “Olha, eu tenho aqui um aluno gênio e vou lhe mandar” ao que ele respondeu: “Pode trazer, traga para cá! Vá à embaixada, mande os papéis para mim que eu autorizo a vinda dele”. E foi assim, pelo telefone. Ele se inscreveu e passou, coitadinho, com uma bolsa miserável – a bolsa francesa era muito pequena. Mas ele foi, passou quatro ou cinco anos, fez um doutorado brilhante. Os professores lá disseram, [Frédéric] Mauro e outros, que nunca tinham visto um aluno de doutorado tão brilhante quanto o Ciro. A banca toda ficou entusiasmada. Então, o Ciro nasceu gênio [risos], ele se fez de uma forma fantástica. O Ciro é fantástico, absolutamente fantástico. E foi o maior fenômeno que eu conheci, gosto muito dele. E o Falcon foi o meu colega de trabalho prolongado. Muito amigo, como se fosse um irmão mais novo e absolutamente insuperável também. Então, eu tive muita sorte. Só o Falcon e o Ciro, que nunca foi meu aluno, mas que eu descobri falando – ele que se apresentou –, e o Falcon, que trabalhou comigo. O Hugo Paes também, que morreu. Tive muitos alunos. Se eu olhar uma lista de professores posso apontar vários. Aqui em Niterói, tive a Hebe [Mattos], que foi uma pessoa muito competente, mas já em uma época mais recente. Então, tem os antigos e os mais recentes, já depois da minha “absolvição”. Depois que fui “absolvida” pelos militares eu voltei à cátedra.
Cantareira – Professora, apenas uma última pergunta: qual o segredo da sua vitalidade?
MY - É porque eu sou filha de “Joca Leite” [risos]. Meu pai morreu aos 95 anos, quase 96, porque levou um tombo. Ele foi empurrado, caiu e quebrou uma perna. Ele teve que operar com anestesia geral e aí acabou. Se não ele teria ido a uns 115 anos. Era fantástico, com 96 anos foi derrubado de uma cadeira, a cadeira caiu com ele por causa da garotada correndo, e ele quebrou a perna. Se não fosse isso... Ele, com 96, 95 anos, andava direitinho com as mesmas pernas dele, com a mesma rapidez dele. Você não dizia que ele tinha essa idade. Ele sabia de tudo, lia tudo.